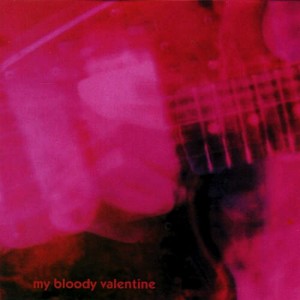
– Por Katrina V.
6/04/2012: Kevin Shields avisa: Vem aí o terceiro álbum do MBV. E o que nós fãs esperamos? Que seja pelo menos, 40% do que foi o último trabalho da banda, a obra prima Loveless. E já seria disparado o melhor álbum do ano, chutando a bunda de muita banda indie cheia de firula que existe hoje em dia. Simples assim.
Até hoje não há uma explicação lógica para o surto ocorrido em 1991, disparado, o ano mais criativo para o rock. No dia 12 de agosto, o Metallica lançaria o Black Album que redefinira o metal, levando-o ás primeiras posições da Bilboard. No dia 23 de setembro o Primal Scream lançaria o endiabrado Screamadelica, trazendo para o rock todo o clima das raves eletrônicas e do seu combustível, o ecstase. Um dia após, o mundo não seria mais o mesmo com o lançamento de Nevermind, arrastando consigo todo o peso e clima sombrio de Seattle e tirando todas as camisas de flanela do armário. Já no dia 4 de novembro dois álbuns fundamentais para o indie rock seriam lançados: Bandwoganesque, da banda mais amada, o Teenage Fanclub e a obra prima do shoegazing (e claro, do rock): Loveless. Tirando o Nirvana e o Metallica, as demais bandas citadas foram lançadas pelo selo Creation Records, uma verdadeira galinha dos ovos de ouro na reinvenção do rock da época.
O MBV surgiu em 1985 em Dublin, Irlanda (se a Irlanda foi ingrata em dar ao mundo nos anos 80 o U2 e o Cranberries, conseguiu se redimir com o MBV) e em nada soava com o estilo que os consagraria (e que dizem que foram, inclusive, os criadores) o shoegaze (o estilo se resumiria a uma coleção de distorções das guitarras que impossibilitava a audição dos demais instrumentos e a vozes etéreas, extremamente suaves. Além claro, da postura típica das bandas, que não encaravam o público. Daí o termo showgaze: Encarar os sapatos). O MBV tal como o conhecemos, surgiria definitivamente em 1988, com o seu primeiro álbum, o belíssimo It’s anything, que já mostraria muito do que consagraria a banda e a destruiria: o perfeccionismo levado aos extremos por seu líder, Kevin Shields. Diz a lenda que Shields sofre de uma doença causada pela contínua exposição a sons muito altos, chamada tinitus, um desarranjo crônico nos tímpanos que faz com que o portador ouça permanentemente um zumbido. Uma das explicações de Shields para a música do MBV seria de que ele tentava apenas reproduzir todos os sons que existiam em sua cabeça. Faz sentido. A Creation Records tendo It’s anything como prova definitiva de que deveria manter o MBV em seu catálogo e apostar nos trabalhos posteriores da banda, renova o contrato com os irlandeses. Porém, não imaginaria que seria o seu pior erro. Não que a banda, antes do lançamento de Loveless, fosse apenas um quarteto querendo colocar as fuças para fora da garagem: o MBV já tinha conquistado uma certa respeitabilidade junto a imprensa inglesa e, sim, era figurinha do staff da gravadora Creation, um selo que já tinha em seu currículo nomes como Jesus And Mary Chain e Primal Scream e de certa forma respondia por alguma coisa de vanguarda da época. O disco anterior, tinha mostrado evoluções significativas na personalidade e no feitio sonoro da banda, que saiu de um som estritamente simples e ruidoso para uma sugestiva mistura antagônica de barulho com melancolia, receita que se transformaria no seu slogan.De alguma forma, “Isn’t Anything” já dava um grande passo nesse sentido, mas ainda deixava lacunas a serem preenchidas por Kevin Shields, mentor da banda. Crítica e público então não hesitaram em depositar expectativas no lançamento do disco seguinte, uma prática que ali iniciaria e marcaria até hoje o sentimento de quem aprecia a música do quarteto. Paciência sempre foi uma virtude para a banda. Junto de Bilinda Butcher, Debbie Googe e Colm O’Ciosoig, Shields entregou-se ao trabalho de construção do disco num ritmo aplicado, cauteloso e (mais um adjetivo comum quando se fala em MBV) perfeccionista. Fossem problemas com as parafusetas das guitarras, com a mesa de som ou com a condição homeless do baterista, Shields ia contornando as circunstâncias, empurrando a produção de seu disco para além do que a gravadora esperava. O que para a Creation devia ser apenas um lançamento para gerar retorno, para o MBV tornou-se um compromisso de transferir para fita as intenções sonoras de Shields. De 1989 a 1991 o MBV passaria produzindo Loveless, em dois anos, foram 17 engenheiros de sons, 19 estúdios (mais o estúdio próprio de Shields) e meio milhão de dólares. Até hoje, Loveless foi o álbum mais caro de uma banda independente, o que levou a quase ruína da Creation Records. O álbum não foi um sucesso de vendas, e muito menos reverteu o prejuízo para a gravadora, mas fez com que a crítica especializada o transformasse em mítico, uma obra de arte em meio a sujeira que reinava em 1991.
O resultado, “Loveless”, chegou às lojas no dia 4 de novembro de 1991, depois de toda a pressão da gravadora para que Shields entregasse o álbum. O disco automaticamente ultrapassava seu anterior, desvelando uma bruma lânguida e onírica de vozes etéreas soterradas sob um vasto rumor de guitarras distorcidas e samples de tom frequentemente indeterminado. “O som de Deus espirrando em câmara lenta”, foi como a Guiness Rockopedia o descreveu. A melancolia serena das nuvens sonoras do Loveless, suas letras que flutuam entre o erótico e o romântico, as vozes de Shields e Bilinda se fundindo à massa sonora de suas canções, é tudo milimetricamente perfeito, planejado por um gênio que sabia exatamente que tipo de sentimentos desejava suscitar em seu ouvinte. “Onírico”, “etéreo” e tantos outros adjetivos exaustivamente utilizados pelos fãs constituem um clichê, é verdade, mas não por isso menos verdadeiro. Na época, ninguém menos que Brian Eno considerou “Soon” (a música que fecha o disco) “o estabelecimento de um novo padrão para o pop”. Sobretudo, “Loveless” pega o legado do disco anterior e cria sobre ele um universo todo particular, que é a grande razão de sua veneração. Impossível não apontar aqui o jargão atribuído à banda, que o disco fatalmente consagrou e é o seu verdadeiro triunfo: nele repousa o aclamado amálgama entre ruído e melodia. Embora constantemente citado como a “bíblia do shoegazing”, “Loveless” passa longe da podolatria, mostrando-se um exercício meticuloso de seu compositor. Sua graça toda está na tentativa de descobrir a linha tênue entre o barulho e a delicadeza, escondida meticulosamente na extensão do álbum. Seus dois atributos caminham juntos, quase siameses, e o que por um lado é uma grande maçaroca de ruídos, é também uma verdadeira aula de melodia e melancolia. Shields faz uso de verdadeiras fortalezas de guitarras distorcidas, geralmente loopeadas, assim como o faz com os samplers de bateria e o baixo, que trabalham lá embaixo da mixagem. Se os dois últimos instrumentos nunca foram tão coadjuvantes no som de uma banda, os vocais têm uma participação igualmente peculiar. Shields usa-os como um instrumento adicional, suaves, encarregados de responder pela melodia de “Loveless” e entrar em conflito com a tormenta ocasionada pelas guitarras. Para tanto, abusa da fragilidade sugerida pela voz feminina de Bilinda, sempre tomando cuidado para que a pronúncia das letras fique soterrada, inteligível, apostando na sugestão de declarações de amor ou manifestações tímidas de qualquer condição emocional. Tudo isso, em conjunto, cria uma simbiose difícil de ser imitada e, principalmente, colocada em texto. Tentar identificar o que é guitarra, o que é vocal e o que é algum truque é impossível, e essa combinação é infalível na tarefa de chamar a atenção do ouvinte. Os ingredientes combinados sobrepõem-se sobre o concreto, cutucando a percepção sensorial, já que estamos falando de música que não é instrumental mas também não comunica através de letras. As coisas estão mesmo aglutinadas na correria inconseqüente que as guitarras fazem em “To Here Knows When”, na melodia explícita e abundante de “I Only Said” e no pop mybloodyvalentinesco de “When You Sleep” e “What You Want”. “Sometimes”, faixa usada por Sofia Coppola em seu “Lost In Translation”, condensa a idéia da banda direitinho: Shields canta suave uma melodia redentora, mas as guitarras saturadas encantadoramente entram em sintonia com ele, dando ao arranjo o direito de dispensar a bateria.(Vale ressaltar que “Sometimes” é a minha canção favorita da banda e a mais melancólica que já ouvi. Quem já foi abandonado e sofreu por isso vai saber exatamente onde esta canção irá doer)
Mas na maioria dos quase 50 minutos de Loveless, a atmosfera é densa e esconde a sensualidade presente no My Bloody Valentine (nas letras ou nos vocais de Kevin Shields e Bilinda Butcher). Seja no dream pop de “To Here Knows When” e “Blown a Wish”, deixando transparecer a influência dos Cocteaus Twins; no experimentalismo do interlúdio “Touched” ou quando a banda só lembra a si própria (e aí se encaixam “Only Shalow” – que abre o disco – e todas as outras músicas), tudo é nublado, um tanto claustrofóbico, e estranhamente sentimental.
A banda influenciou um espectro indefinível que vai dos mais lisérgicos conjuntos atuais (Deerhunter, Radio Dept, Blonde Redhead) até o dream pop (Mercury Rev, Flaming Lips), passando pelos britânicos mais tradicionais (Oasis, Verve, Blur, Radiohead), os alternativos em geral (Interpol, Black Rebel Motorcycle Club, Ladytron), o chamado nugaze (Silversun Pickups, Asobi Seksu, Fleeting Joys), inegavelmente todo pós-rock (Mogwai, Explosions in the Sky, Sigur Rós) até bandas norte-americanas de peso como NIN e Smashing Pumpkins.
A genuinidade de “Loveless” não só continua desafiando músicos e ouvintes até hoje, como apresentou-se um problema intransponível para a banda. Em acordo com a Creation, que queria ver Kevin Shields pelas costas (“Loveless”, embora reconhecido, não vendeu o suficiente para pagar seu financiamento), o MBV assinou com a Island, evidentemente interessada em conciliar a banda com o grande público. A nova gravadora recheou os bolsos de Shields com libras, investidos na construção de um estúdio que daria suporte à criação do sucessor de “Loveless”. Passaram-se 21 anos e a Island ainda espera pelo sucessor. Segundo boatos, alguns confirmados por Shields, a banda já possuí quase 40 horas de música, porém, Shields receia que o material produzido não supere Loveless. Já dado como certo o lançamento do terceiro álbum ainda neste ano pelo vocalista e mentor, em entrevista ao site Pitchfork, só resta aos fãs um pouco mais de paciência.
No final das contas, Loveless pode não ser o marco zero do shoegaze muito menos o álbum que ditou os rumos da música independente, mas é com certeza a pedra filosofal de onde outros alquimistas das distorções tiraram suas lições para tentar realizar a grande obra. Mas outro álbum como este, se acontecer, somente numa dimensão paralela. Ou não, né Kevin?
5/5
_
Tracklist
- Only Shallow
- Loomer
- Touched
- To Here Knows When
- When You Sleep
- I Only Said
- Come in Alone
- Sometimes
- Blown a Wish
- What You Want
- Soon
_
Ficha Técnica
Loveless – 1991 – My Blood Valentine: Gravadora – Creation Records. Kevin Shields (vocais e guitarra), Bilinda Butcher (vocais e guitarra), Debbie Googe (baixo) e Colm O’Ciosoig (bateria)
–
Faixa sugerida
Filed under: Top's | Tags: Black Sabbath, Diamond Head, Guitarra, headbanger, Iron Maiden, Led Zeppelin, Megadeth, Motörhead, Ozzy Osbourne, Quiet Riot, Riff, Slayer, solo, Top

– Luiz Carlos Freitas
Não consegui elaborar uma descrição minimamente decente, mas saibam que esse é um post sobre as dez introduções de música mais fodonas de todos os tempos (na minha opinião, é claro). Leiam, contestem, façam suas próprias listas nos comentários, o que seja. O importante é louvar o [aperta os ovos e cospe no chão antes de falar] Deus Metal e bangear.
.
.
– AS 10 INTRODUÇÕES MAIS FODAS DO METAL –
Continue lendo
Filed under: Comentários | Tags: 2000, At The Drive-In, post-hardcore, The Mars Volta
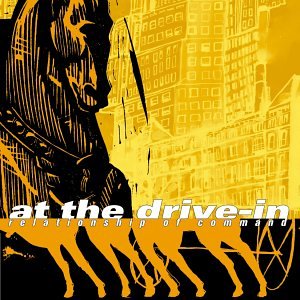
– por Melchior Barbosa
Há 12 anos a cena musical encontrava-se numa encruzilhada digna de uma macumba das mais bem feitas. As bandas do estilo New Metal dominavam as paradas e a situação beirava o desespero que aconteceu no final dos anos 80, com as bandas mais homofóbicas e machistas da história (Poison, Motley Crue). Fora algumas exceções, o mainstream estava saturado e nada de novo acontecia. O hip-hop perdia cada vez mais a sua origem mais ligada as lutas de classes e se livrava do gangsta rapper para inaugurar o “bling-bling”, esbanjando mais ainda os valores já chatos de uma sociedade com um pé e meio no novo milênio. Era uma cacofonia das mais complicadas e ficava difícil saber que rumo daria aquele caminho (saberíamos anos depois com o surgimento do álbum “Is This It?” do The Strokes).
Elementos do punk e hard-core pareciam estar em ostracismo total, apenas com as bandas que já se mostravam cansadas e não conseguiam (e talvez nem quisessem mais) atingir um público novo. Enquanto isso, uma gravadora major trabalhava com uma banda que almejava o sucesso, tinha o talento, mas por outro lado eram artistas e valorizavam o que expressavam. Era um risco, claro. “E se eles quiserem fazer o que bem entendem? E se quiserem escapar das nossas garras?”. Apesar do contraponto, eles apostaram e deram toda estrutura que a banda desejava. Em Setembro de 2000, chegava às lojas norte-americanas o álbum Relationship Of Command, de um grupo de 5 jovens de El Paso, Texas. Por preconceito, quem diria que de um dos estados mais conservadores dos EUA, sairia um dos álbuns mais influentes da década de 2000? Não demorou muito e o At The Drive-In tornou-se uma das bandas mais requisitadas em festivais e programas do mundo todo, em uma turnê que durou apenas 1 ano, mas marcou um momento único na história da música.
O álbum é potente do começo ao fim. São raros os momentos em que a banda tira o pé e mesmo quando diminui o ritmo, consegue cativar quem o escuta. A música de abertura “Arcarsenal” já denota no nome pelo que a banda veio. É um dos pontos altos e sua abertura tribal é um prefeito prelúdio da guerra que se iniciará entre a banda e o ouvinte. Segue-se mais 3 canções de ritmos frenéticos e diferenciados . A segunda, “Pattern Against User” é um dos momentos mais comuns do trabalho, uma canção hardcore bem trabalhada somada as letras surrealistas e vocabulário abrangente do vocalista Cedric Bixler-Zavala. A terceira canção, a enigmática “One Armed Scissor” é o grande hit do álbum, como não poderia deixar de ser uma canção número três na maioria dos discos mainstream. Apesar de ter a característica do hardcore presente em bandas da época, o primeiro single deste álbum conseguia aplicar as melodias ardidas e alternativas que eram a proposta da banda com este trabalho.
O guitarrista solo Omar Rodriguez-Lopéz já ensaia os tons agudos e sujos, cheios de efeitos de distorção. “One Armed Scissor” sintetiza a transição sonora que a banda passou nos 10 anos em que tocaram juntos antes de se serem “descobertos” pela gravadora. Um dos pontos mais altos do álbum sem dúvida é a quinta canção: “Invalid Litter Dept.” . Talvez seja a canção mais experimental e bela que a banda chegou a fazer e ainda com um assunto nada bonito, uma série de assassinatos ocorridos na pequena Ciudad de Juaréz, no México, na fronteira com os Estados Unidos. Na letra, Cedric fala do descaso das autoridades com o acontecido e o drama vivido por aqueles que ficaram sem respostas, mas tudo de uma forma tão única que fica difícil compreender os significados de primeira.
Depois de “Invalid Litter Dept.”, Relationship Of Command começa a entrar em um terreno mais experimental. A sétima música, Enfilade, conta com a participação inusitada de nada mais nada menos que Iggy Pop abrindo e anunciando, em uma voz soturna, um sequestro de um filhote de mamãe leopardo. Com um ritmo mais cadenciado e influenciado por percussões latinas, Cedric esbanja seu repertório ao criar uma ambientação de sequestro a moda antiga com mais palavras simbólicas (Sacrifice on railroad tracks/ Freight freight train coming/ Unconsious tied and gagged). Iggy Pop retorna na sequência com a contagiante “Rolodex Propaganda”, agora cantando de fato, em outro ponto alto da obra. O ritmo balanceia novamente com “Quarantined”, mas sem perder a agressividade sincera da banda.
A combustão final do álbum se da com a alienígena “Cosmonaut”, que mais parece um apêndice do filme 2001 – Uma Odisséia no Espaço (Prepare to indent/ A coma that read/ Floating in a soundproof costume/ Here comes the monolith). As últimas três canções encerram de forma melancólica e amarga, principalmente com a derradeira “Catacombs” (título mais que sugestivo pra última e agonizante canção de um álbum).
Todo o turbilhão que a banda realizou neste seu trabalho mais maduro nos seus (até então) 10 anos de vida, transparecia em seus shows antológicos, nas performances visuais de Cedric e Omar, que pareciam de fato estar a parte do resto da banda. Como se fossem duas bandas dividindo o mesmo palco. Não dá certo. E não deu. Logo depois da exaustiva turnê para divulgação de Relationship Of Command o At The Drive-In paralisou suas atividades e se dividiram em duas bandas finalmente. Cedric e Omar formaram o excêntrico The Mars Volta, que sobrevive até hoje, e Jim Ward e os outros, formaram o genérico Sparta, que nem foi assim tão longe. Fomos todos pegos de surpresa então, neste Janeiro de 2012, quando o At The Drive-In anunciou seu retorno aos palcos com dois shows no Coachella Valley Music and Arts Festival, que rolara no próximo Abril. Não é de se esperar que a banda demonstre toda aquela energia da década de 00’, mas valera no mínimo por um saudosismo.
4/5
_
Ficha Técnica
Relationship Of Command – At The Drive-In, 2000 – Gravadora: Grand Royal Records/Fearless Records – Integrantes: Cedric Bixler-Zavala (vocais, guitarra e melodica), Omar Rodríguez-Lopéz (guitarra, backing vocal), Jim Ward (guitarra, backing vocal e efeitos), Paul Hinojos (baixo), Tony Hajjar (bateria)
_
Tracklist
1. Arcarsenal
2. Pattern Against User
3. One Armed Scissor
4. Sleepwalk Capsules
5. Invalid Litter Dept.
6. Mannequin Republic
7. Enfilade
8. Rolodex Propaganda
9. Quarantined
10. Cosmonaut
11. Non-Zero Possibility
12. Extracurricular
13. Catacombs
_
Faixa Recomendada:
Filed under: Comentários

– Katrina
Como manter uma banda independente após o estrondoso sucesso de sua (até então) obra prima, e que agora estava sob a tutela de um grande selo no inicio dos tumultuados anos 90? Goo foi a resposta.
Daydream Nation era o clímax de um processo iniciado com Evol [1986] e Sister [1987], e a questão existencial de um ponto de vista musical impunha à banda de Nova York ou conseguir olimpicamente ultrapassar o patamar alcançado com o anterior registo em moldes similares, ou modificar a sua sonoridade e estruturas de canções, caminhando num sentido distinto com novas roupagens. Goo é o disco menos experimental do SY e um verdadeiro teste da credibilidade da banda sob a pressão de estarem sob o teto de uma grande gravadora como a Geffen.
Nunca houveram tantas canções (“Dirty Boots”, “Mote”, “Disappearer”) todas com codas ou intermezzos disparatados. Nunca a baixista Kim Gordon cantou tanto (Moore faz a menor parte dos vocais). Mas acima de tudo, nunca houveram tantas canções “limpas” no até então repertório da banda. Lançado em Junho de 1990, Goo lançava-se num cinismo arty balançante entre as doses pesadas de dissonância muito características da banda e uma rajada avassaladora de riffs pops que alimentaram estruturas mais enquadradas no conceito tradicional das canções. Era o Sonic Youth como nunca antes ouvidos.
Bem distante da bizarra experimentação sonora e esmigalhante de Confusion is Sex e de aproximações mais ecléticas em Sister ou Evol, Goo trazia consigo um jorro de canções mais catchy e radio-friendly, sem que com isso deixasse de parte a marca tradicional do universo previamente estruturado pela banda, apenas em menor dose e de um modo mais sutil ou menos carregado. Lógico, a zoeira vanguardista-apunkalhada estava lá para garantir que o Sonic Youth, no fundo, continuava o mesmo. Dos 80 aos 90, o Sonic Youth vai da desordem à ordem aparente. E apontava, influênciava e organizava um período que prometeu reinventar o rock´n´roll (e conseguiram, afinal das contas não?)
Em resposta aos desafios lançados a sua nova situação (de futura, quem sabe, banda mainstream), temas como Dirty Boots, Mote ou Kool Thing (com a participação de Chuck D do Public Enemy), desfizeram qualquer dúvida quanto à capacidade da banda se reinventar sem que com isso tivesse de alterar os ingredientes da sua sonoridade, bem como destruíram qualquer possibilidade de existir comparação possível com o passado criativo (diga-se Sister, Evol e Daydream Nation). Cada canção vale por si mesma, um vulcão individual que manteve os fieis e cativou novos crentes, mantendo paralelamente afastados os espectros de uma demanda demasiada pop. São sem dúvida a coisa mais pop lançada pelos autores de Teen Age Riot, mas de uma coloração que não se desfaz e muito menos se torna enjoativa. Pelo contrário, se tornaram expoentes da arte de fazer canções mais sintéticas e acessíveis com a dose exata do seu cinismo punk inimitável.
Ainda que Goo fosse o primeiro álbum do grupo para um grande selo, não foi um sucesso de vendas. Com backing vocals de J. Mascis, líder do Dinosaur Jr., e uma fusão à frente de seu tempo, Goo era acessível em termos de músicas e estrutura ainda que se mantivesse experimental em termos de tom e textura. As letras sobre a morte de Karen Carpenter por anorexia (“Tunic (Song For Karen)”) e doideiras de um minuto (“Scooter And Jinx”) mostravam a continuidade do controle criativo, enquanto a capa do artista ultracool Raymond Pettibon, um quadrinho nihilista estilizado, manifestava as expectativas de uma época.
Mesmo Goo não sendo o melhor álbum do SY (porque logo mais viria um dos seus maiores clássicos da década, o monstruoso e inabalável Dirty) ele continua a frente do seu tempo (ainda fico boquiaberta em ouvir Cinderella’s big score mesmo sabendo que é um canção composta a mais de 20 anos), incontornável e de certa forma ditou os rumos da banda e de uma década. Da banda porque os trabalhos seguintes seguiriam a mesma fórmula, distanciando a banda cada vez mais do puro experimentalismo e distorção (mesmo que a cada álbum os primórdios seriam revisitados por uma ou duas canções), e de uma década, afinal, a banda que abriria os shows da turnê de Goo e seria indicada (com fervor) pela banda à gravadora Geffen era nada mais, nada menos do que o Nirvana.
4/5
_
Ficha Técnica:
Goo (1990) Sonic Youth – EUA- Geffen. Integrantes: Thurston Moore (vocais e guitarras), Lee Ranaldo (vocais e guitarras), Kim Gordon (baixo e vocais), Steve Shelley (bateria), J Mascis (backing vocal nas faixas 2, 5 e 6) e Chuck D (participação em Kool Thing)
_
Tracklist:
- Dirty Boots
- Tunic (Song For Karen)
- Mary-Christ
- Kool Thing
- Mote
- My Friend Goo
- Disappearer
- Mildred Pierce
- Cinderella’s Big Score
- Scooter And Jinx
- Titanium Exposé
_
Faixa Recomendada:
Filed under: Comentários | Tags: acústico, baseado, Beck, Blood on The Tracks, heart, Nick Drake, pé-na-bunda, tristeza

– Allan Kardec Pereira
De uma família composta por artistas, Beck veio estourar com o lançamento de Mellow Gold e o hino slacker Loser (Soy un perdedor I’m a loser baby, so why don’t you kill me?). Um jovem loiro, rico, cool que fazia uma música inventiva, camaleônica, com trechos em espanhol. Acima de tudo, um cara que entendia muito de música e que, desde seus primeiros álbuns, parece ver esse conhecimento, essa junção de boas influências em sua sonoridade como algo positivo. A essência do trabalho de Beck?
Em 1996, lança aquele que seria um dos melhores discos da ótima década de 90, o Odelay. Recheado de breakbeat,rock, country, folk,misturando músicas eruditas com letras irônicas, o disco ganha dois Grammy’s e futuramente iria compor a seleta lista dos “200 álbuns definitivos no Rock Roll Hall of Fame”. Em 1998, Beck trabalha com o produtor Nigel Godrich, que havia produzido a apenas o imortal Ok Computer do Radiohead no ano anterior. O resultado foi Mutations, um disco mais centrado na influência folk do Beck com os toques de sintetizadores característicos de Godrich curiosamente, seu nome fazia referência aos Mutantes, com inclusive uma faixa “Tropicália”, um engraçado samba desafinado de gringo. Foi um trabalho que Beck considerou como “à parte”, não uma sequência de Odelay Seqüência que viria com Midnite Vultures, e toda aquela pegada soul,bem pra cima.
Mas aí chega o Sea Change, tido por muitos como “álbum que o Beck fez depois de acabar um longo relacionamento”. As comparações, evidentemente, o ligaram ao soberbo Blood on the Tracks, do Dylan. Embora como se trata de Beck, é de se supor que outras influências visíveis fossem utilizadas. Uma delas, é Nick Drake e muito de Van Morrison, ou, diria até, Tim Buckley.
E o disco se lança nessa jornada introspectiva, nesse clima denso, se afastando bastante dos discos anteriores. Como faixa de abertura não temos mais uma enérgica “Devils Haircut”, mas sim, dando adeus a qualquer tentativa das recorrentes ironias e joguetes linguísticos de Beck, a melancólica “Golden Age” abre o disco de forma simples e pessimista, apontando que “These days I barely get by I don’t even try”.
“Paper Tiger” é puro Serge Gainsbourg, com aquele jogo entre guitarra, violinos e piano. Beck direciona ainda mais seu pessimismo, abre as chagas de sua dor e parece não encontrar alento: “There’s one road to the morning/There’s one road to the truth/There’s one road back to civilization/But there’s no road back to you…”.
De “It’s only lies that I’m living/It’s only tears that I’m crying/It’s only you that I’m losing/Guess I’m doing fine”, em “Guess I’m Doing”,Beck rasga seus lamentos, assim como em “Lonesome Tears”, que como o título já diz, mais uma música a falar da solidão, da falta de perspectiva e da necessidade de encontrar um caminho que o cantor evocava.
“Lost Cause” talvez seja a mais linda de todo o disco. Basicamente em voz e violão, Beck desaba de vez: “I’m tired of fighting, I’m tired of fighting/Fighting for a lost cause”. O clima se mantém taciturno, mas, sem dúvida, um dos grandes destaques fica por conta de “Round The Bend”, que parece ser uma faixa tirada do Five Leaves Las”t, de Nick Drake. O clima fica sombrio de vez. Especialmente na radioheadiana (Kid A) “Ship In A Bottle”.
Certa vez, Dylan questionada o porquê de um disco tão triste como o Blood on the Tracks, tão sincero, que mostrava apenas a tristeza de um artista atormentado seria interessante para as pessoas. Talvez ele tivesse querendo esquivar do fato de que discos como o seu, como esse Sea Change de Beck falam de uma situação perfeitamente natural, de desengano frente a perda daquela pessoa que seria a sua base de sustentação na época. É uma linguagem atemporal. Nesse sentido, Sea Change não é apenas um desvio de tonalidade na música de Beck – até porque, nos discos seguintes o cantor iria voltar de alguma forma as influências dos tempos de Odelay -, mas sim, o fruto consciente de um artista em plena maturidade em suas composições.
4,5/5
_
Tracklist:
- The Golden Age
- Paper Tiger
- Guess I’m Doing Fine
- Lonesome Tears
- Lost Cause
- End of the Day
- It’s All in Your Mind
- Round the Bend
- Already Dead
- Sunday Sun
- Little One
- Side of the Road
Ficha Técnica:
Faixa Recomendada:
Filed under: Comentários | Tags: 1985, Noise, Pared Down Drums, post punk, The Jesus And Mary Chain
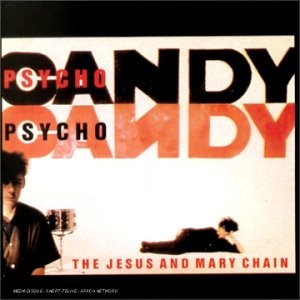
– Camilo Diniz
Em 1985, o Punk Rock dava seus últimos suspiros. Bandas que o precederam e foram de essencial importância no seu desenvolvimento, como The Velvet Underground e The Stooges haviam encerrado suas atividades em meio aos abusos de drogas e crises de relacionamento entre seus membros.
Todavia, as sementes por eles lançadas deram origem ao já citado punk rock, e também ao Post Punk de bandas como Joy Division, que à essa altura também não existia mais, dando lugar ao New Order. Outro filho prodígio da cena, The Smiths, vivia o auge do seu sucesso, afastando-se, porém, das influências do movimento, com um som mais limpo e repleto de sentimentalismo e militância social, aproximando-se do rock alternativo e lançando as bases do que viria a ser o britpop anos mais tarde.
Mais fiel ao peso e barulheira do punk foi, porém, a escocesa The Jesus And Mary Chain, que no mesmo ano lançou uma pérola do rock, na qual as distorções da guitarra tocada por William Reid alcançam níveis absurdos, flertando com os abusos do noise rock e a bateria de Bobby Gillespie, que logo após sairia para formar o Primal Scream, marcam o ritmo insano e contagiante do disco, lembrando bastante a presteza e a simplicidade de Moe Tucker no Velvet Underground.
Sujo, simples e poético, Psychocandy une ao barulho lo fi do instrumental os vocais – ora epilépticos, ora suaves – de Jim Reid e uma poesia ferina, que trata de assuntos diversos com uma naturalidade espantosa, que apenas faz jus às principais influências da banda.
Em Just Like Honey, maior sucesso de toda a trajetória dos escoceses temos a apologia ao sexo oral disfarçada entre palavras adocicadas e cacófatos: “Eating up the scum is the hardest thing for me to do… Just like honey”. Outras canções do álbum, como Taste The Floor e Cut Dead tratam de decepções. A incompreensão afetiva de Never Understand e You Trip me Up e o romantismo em Taste Of Cindy e Some Candy Talking fazem de Psychocandy um disco único, com um sentimentalismo não clichê que fala naturalmente de assuntos totalmente contraditórios, sempre embalado pela sujeira da guitarra de Will Reid e pela batida marcial da bateria de Gillespie.
Talvez seja injusto não mencionar as outras faixas do álbum – 15 no total – Deixo ao ouvinte a tarefa de desfrutar da fantástica obra de arte que aqui se apresenta. Suave e cruel, simples e profundo. Psicótico e doce.
5/5
_
Ficha técnica:
Psychocandy (1985) – The Jesus And Mary Chain – Escócia. Jim Reid (Vocais, Guitarra), William Reid (Guitarra, vocais em It’s so hard), Douglas Hart (Baixo), Bobby Gillespie (Bateria, Percussão)
_
Tracklist:
Lado A:
- Just Like Honey
- The Living End
- Taste the Floor
- The Hardest Walk
- Cut Dead
- In a Hole
- Taste of Cindy
Lado B:
- Never Understand
- Inside Me
- Sowing Seeds
- My Little Underground
- You Trip Me Up
- Something’s Wrong
- It’s So Hard
_
Faixa Recomendada:
Filed under: Comentários | Tags: 2011, Bad as Me, Flea, Keith Richards, Les Claypool, Rock, Tom Waits

– por Bernardo Brum
“Eu sou a última folha na árvore. O outono levou o resto, mas eles não me levarão”, é o que afirma Tom Waits em Last Leaf, uma das últimas canções de sua mais nova obra-prima, Bad as Me. Constatação óbvia, mas necessária de um artista que, dentre tantos outros que primavam pelo caminho do pouco óbvio – Frank Zappa, Captain Beefheart, Screamin’ Jay Hawkins etc. – foi um dos poucos que sobreviveram. Ignorado, estranhado, taxado de louco, bizarro e hermético. Aos sessenta e dois anos, ainda é anacrônico como nunca.
Ainda no seu estilo inimitável – ponto de convergência entre rock, blues, jazz, folk, tango, industrial, vaudeville e tudo que é interessante, curioso e marginal – adotado de forma definitiva desde que se casou com sua parceira musical Kathleen Breenan – produtora do disco junto a Waits, Bad As Me é aquele raro tipo de disco multifacetado que jamais dispara para todos os lados – é ao mesmo tempo diverso e autoral. É infernalmente pesado, tem a delicadeza de uma pluma. Expressa a raiva dos oprimidos e lamentos de miseráveis. Sua voz e postura performáticas transitam facilmente entre a fanfarronice alcoólica, entre a paixão sacra, luxuriosa e proibida, e o desespero derrotado e indignado.
Pragmático em sua constante metamorfose, o que move Waits não é a transcendência, mas a redenção que só estradas, bares e conversas trazem. Aquela redenção que só romances fracassados, brigas estúpidas, pequenos medos e acontecimentos irrelevantes ensinam. O beatnik músico – discípulo da selvageria poética de um Ginsberg e da inquietação de um Kerouac e da perpiscácia ébria e maldita do honorário velho safado Bukowski – passeia por vários contextos, e pisa em todos eles ao mesmo tempo. Morde e assopra, beija e grita ao mesmo tempo.
Mesmo com sua visão pessimista e debochada do mundo, Tom ainda é um idealista, por mais irônico que esse paradoxo seja. Está sempre querendo fugir, mudar, reconfigurar: em Chicago, diz que “Não teremos que dizer adeus se todos fugirmos/Talvez tudo esteja melhor em Chicago”. Opera em todos os níveis, inclusive o afetivo; em Back in the Crowd, pede a quem quer que seja endereçada a música que “se você não quer o meu amor/não me faça ficar”. A vontade de sair da rotina e do conformismo de qualquer jeito também é expressa no delicado jazz Kiss Me, onde o crooner Waits evoca Louis Armstrong para propor: “Eu quero que você me beije como uma estranha mais uma vez/Eu quero acreditar que nosso amor é um mistério/Eu quero acreditar que nosso amor é um pecado”.
E há, claro, Bad as Me, a dicotômica faixa título. Evocando imagens estranhas, urbanas e familiares (uma chave perdida, uma carta de Jesus na parede do banheiro, detetives insones, barcos que não afundam), Tom cria dois personagens, eliminando a distância entre eu e seu duo: “Você é o mesmo tipo de mal que eu”. Recusa a lógica existencialista de “os infernos serem os outros”. Somos todos miseráveis no mesmo barco da vida (e como dizia em seu álbum Blood Money, “a miséria é o rio do mundo” – e talvez o nosso sustento venha dela), todos em busca de um significado maior, de um ponto final – de um lar que talvez jamais encontremos. E se Tom é condenável por perceber e aceitar isso, o interlocutor compartilha do mesmo tipo de maldade – da tragédia e do cinismo de ser humano.
Em um álbum plural como Bad as Me, há tanto espaço para o falsete em Talking at The Same Time – que com seu ritmo cadenciado expressa profundo desconforto para o mundo – quanto para a sua monstruosa e tradicional voz, como a galhofeira e dançante Get Lost, uma verdadeira fuga do tradicional escapismo da música pop (“Tempo não quer dizer nada/Dinheiro menos ainda/(…)/Eu quero ir me perder”). As duas vêm na sequência da segunda canção, Raised Right Men, que com o marcado baixo funky de Flea e com seus picos no meio de um ritmo incerto, afirma que não existem pessoas bem criadas o suficiente nesse mundo. É o lado rústico, grosseiro e desencantado do álbum, que comenta tanto a falta de decência do ser humano em grupo, no geral quanto a falta de sorte e afeto mútua.
O lado agressivo de Bad as Me é representado tanto em Satisfied (é Tom conjugando sob o mesmo teto o rythm ‘n’ blues primitivo da guitarra de Keith Richards e a pesada esquisitice do baixo de Les Claypool, do Primus) quanto na apocalíptica Hell Broke Luce, uma literal porrada massacrante, onde despida a ironia, só sobra um vômito agressivo de repugnância sobre o mundo (“Eu tinha uma boa casa, mas eu a deixei/A porra daquela grande bomba me deixou surdo” e “Como é possível que os únicos responsáveis por criar esta bagunça/Estejam com suas miseráveis bundas presas às mesas deles”). Para Waits, a fuga é iminente: a civilização é um barco em pleno naufrágio, e quem não nadar logo para longe afundará junto.
A sensação de outcast, de pária e desajustado, é recorrente por todo o álbum: se Satisfied afirma que Tom arrancará alguma satisfação da vida antes de ir embora, a balada Face to The Highway cria um mundo de interdependências apenas para afirmar no refrão que “eu virei minha face para a estrada/e darei as costas para você” e Pay Me é sucinta em seu tom desafiador e sua sonoridade à lá Rain Dogs providenciada pela mistura de acordeão, guitarra e violino: os versos iniciais dizem nada menos que “Me pagaram para não voltar para casa/Me deixando chapado/Eu não irei correr”… A pluralidade de sensações, o antagonismo de cada um nós para com nós mesmos e com os outros. O disco Bad as Me veio não para explicar e trazer sentido, mas para confundir, desorganizar, questionar, virar a música que estamos convencionados a ouvir de cabeça pra baixo.
O tom geral das letras mostra que para Waits, não há nada pior do que a estagnação, a sensação de estar parado e nunca progredir. Aqueles que sobrevivem à selvageria desse mundo (como diz o título de um disco seu “Bone Machine”, vivemos dentro de uma máquina de moer ossos) são poucos, excêntricos na mesma medida em que são vivos – ele quer beijar sua companheira de tantos anos como uma estranha, voltar a se confundir com a população, abandonar tudo e voltar para a casa, fugir para a nostalgia, ir embora, sumir e sente repulsa e ao mesmo tempo pena do que é coletivo, do que não é singular, enxergando-os como uma multidão de vozes indefiníveis que jamais será capaz de ver que todos compartilham do mesmo mal e da mesma delícia.
Essa viagem por toda carreira de Tom – desde os tempos melancólicos de Closing Time e The Heart of Saturday Night, à metafísica estranha e ébria de Swordfishtrombones, Rain Dogs e Frank’s Wild Years e a agressividade seca, bruta e niilista e ao mesmo tempo frágil lamuriosa de Bone Machine e Mule Variations – tudo isso resumido em um disco, alcança seu final na jazz-ballad New Year’s Eve, onde em sua letra ditada em pleno fluxo de consciência porém guiada com maestria em suas emocionadas linhas vocais, pregando aquele certo momento de união das pessoas mais miseráveis nos momentos mais difíceis. Em meio a vários fatos narrados pelo eu lírico, há espaço para que ele lembre que “Era dia de ano novo/E todos nós começamos a cantar:/Não deveria todo conhecimento ser esquecido/E nunca trazido à mente/Não deveria todo conhecimento ser esquecido/Em nome dos bons e velhos tempos?”. Ele conclui que tudo deve ser esquecido, nada deve ser trazido à tona. O passado não deve ser remoído, deve-se olhar para a frente.
No próximo ano, todos seremos melhores. E tudo dará certo, queremos acreditar – ainda que fé na beleza seja tão difícil na era da razão. Alguns de nós, ano que vem, não estarão mais aqui. Outros ainda resistirão e continuarão a cantar as dores inaudíveis de um mundo barulhento demais – como Tom, a última folha do outono e a primeira da primavera, constantemente gastando a carne e renovando o ser e tantos outros. São os “frágeis senhores da guerra”, ele, Dylan, Lou Reed, Nick Cave, Leonard Cohen, Neil Young – gente que perdeu o jogo, mas que ainda joga de “teimoso” na grande roda. Os “rain dogs”, perdidos na chuva ao perderem o próprio rastro, que querem o quanto antes voltar para casa – tanto a casa do seu período infante, aquela dos sonhos e das memórias, quanto a metafórica, a unidade, Deus ou a poeira de estrela, você decide como chamar.
Isso é Bad as Me: a fuga, a diversidade e a desorganização em nome da unidade, do sincretismo, de alguma fé absurda no inverificável. Um chute na canela da percepção arbitrária de mundo. O tipo de música que só Tom Waits sabe fazer, afinal de contas.
5/5
_
Ficha técnica:
Bad As Me (Tom Waits) – 2011 – EUA. Integrantes: Tom Waits (vocal, guitarra, piano, percussão, banjo) e outros, incluindo Keith Richards, Flea e Les Claypool.
_
Tracklist:
- Chicago
- Raised Right Men
- Talking at The Same Time
- Get Lost
- Face to The Highway
- Pay Me
- Back in The Crowd
- Bad as Me
- Kiss Me
- Satisfied
- Last Leaf
- Hell Broke Luce
- New Year’s Eve
_
Faixa recomendada:
Filed under: Comentários | Tags: 1987, Axl Rose, drogas, Glam Rock, Guns N' Roses, Hard Rock, Los Angeles, rock farofa

– Rita Gomes
O cenário musical dos anos 80 cheirava a Glam metal, ao (injustamente) chamado rock farofa, onde bandas como Mötley Crüe, Cinderella e Skid Row apresentavam mais do que apenas belos riffs de guitarra e refrões bem ensaiados, mas uma estética andrógina paradoxal às canções permeadas por temas como mulheres, sexo e bebidas. O hard rock parecia estar cada vez mais fadado a ser capitaneado por bandas que cultuavam a imagem acima da própria produção musical.
Quando surgiu no cenário musical, o Gun N’ Roses parecia apenas mais uma banda de hard rock com um vocalista bonitão de cabelos compridos. Ledo engano. Appetite for Destruction trouxe elementos mais crus, por assim dizer, à estética do período, tanto no visual bad boy assumido pela banda quanto na sonoridade mais heavy, mais rock.
Canção de rock calcada nas guitarras de Izzy e Slash, Welcome to the jungle abre o álbum, já demonstrando a natureza hard das músicas do grupo. Também conta com os hits Paradise City, Rocket Queen, It’s so easy, Mr. Browstone e Sweet Child O’Mine.
Em grande parte, as músicas foram compostas durante o período em que a banda se apresentou por bares e clubs de Los Angeles, espelhando a maneira desregrada e alucinada que os integrantes viviam. Temas como a vida dura na cidade (Welcome to the jungle), o tédio que sucede a conquista (It’s so easy) e, claro, drogas (Mr. Browstone).
O maior hit, Sweet Child O’Mine, foi composto em homenagem a então namorada de Axl, Erin Everly. Seu riff, um dos mais conhecidos do rock, foi composto por Slash, Izzy e Duffy, enquanto Axl trabalhava a letra. Canção mais conhecida da banda, tornou-se um clássico do hard rock.
É bom deixar claro: mesmo sendo mais hard rock, o Guns ainda é uma banda “farofa”. A maneira como Axl idolatrava sua própria figura, a própria imagem da banda e todo o hedonismo que os cercava fazem com que o Guns N’ Roses se aproxime muito mais da imagem glam rock do que os afaste.
Verdade seja dita: mesmo aparentemente sendo apenas mais uma banda “farofa”, a sonoridade do Guns, ao ser mais pesada que outras de outras bandas no mesmo período, ajudou a disseminar o rock. Apesar da própria decadência do estilo, visto que toda a farofice dos anos 80 virou pó no início da década de 90, o Guns ainda é banda referência de hard rock.
O álbum contém uma combinação poderosa: boas músicas, uma banda insanamente afinada, em sua melhor formação, e um vocalista inspirado. Após este debut oficial, a banda ainda traria ao mundo mais alguns bons álbuns (Use your illusion I e II, Spaghetti Incident), mas os rumos tomados com a saída gradual dos membros originais só aumentaram a nostalgia pela verve antiga. Melhor lembrar de Guns com este álbum.
4,5/5
_
Ficha Técnica:
Appetite for Destruction (Guns N’roses) – 1987 – Estados Unidos. Integrantes: Axl Rose (vocais, percussão, sintetizador e apito), Slash (guitarra solo, guitarra rítmica e talkbox), Izzy Stradlin (guitarra rítmica, backing vocals, guitarra solo e percussão), Duffy McKagan (baixo e backing vocals) e Steve Adler (bateria)
_
Tracklist
- Welcome to the jungle
- It’s so easy
- Nightrain
- Out Ta Get Me
- Mr. Brownstone
- Paradise City
- My Michelle
- Think About You
- Sweet Child O’ Mine
- You’re Crazy
- Anything Goes
- Rocket Queen
Faixa recomendada:
Filed under: Comentários | Tags: 1974, Ódio, glam, Glam Rock, Heroína, Live, Lou Reed, Resenha

– por Camilo Diniz
Muito se fala acerca da versatilidade musical de David Bowie e Iggy Pop, chamados frequentemente de camaleões do rock, todavia se subestima a mesma capacidade do vértice da chamada “santíssima trindade do rock”, Lou Reed, que influenciou toda uma geração de músicos, notadamente os outros membros da tríade citada.
De trovador soturno das esquinas de New York, à época dos primeiros discos do The Velvet Underground, passando por glam rocker no disco Transformer e poeta sofredor e deprimido em Berlin, Lou Reed, a despeito de tão metamórfico quanto seus colegas, é muito pouco lembrado neste quesito.
Após sua saída do Velvet Underground, Reed encontrou em David Bowie o apoio necessário para, finalmente, obter sucesso em sua obra, sempre controversa e quase nunca compreendida. O resultado foi Tranformer, talvez o maior sucesso do ano de 1972, o que fez de Lou Reed o artista do ano na Inglaterra, superando nomes consagrados como Mick Jagger, o próprio Bowie e Eric Clapton. Finalmente alcançara o reconhecimento que não veio com o Velvet, o que o colocou em situação financeira confortável.
Todavia, a vida pessoal de Reed estava em cacos devido à sua crise no casamento e vício em drogas, o que refletiu profundamente na produção do seu próximo disco, Berlin, talvez um dos mais depressivos da história do rock, duramente criticado na época, todavia reconhecido hoje como um dos registros definitivos da música.
Na esteira da crise de relacionamento, vício em drogas, brigas sérias com David Bowie e incompreensão da crítica, Lou Reed iniciou sua nova turnê, marcada pela agressividade incomum, semelhante apenas à experimentada no disco White Light/White Heat , o que o colocou no mesmo patamar de Iggy Pop, padrão até os dias de hoje no que se refere à visceralidade e agressividade no rock.
A turnê, denominada Rock ‘N’ Roll Animal resultou na gravação de um álbum homônimo ao vivo, em New York, como não poderia deixar de ser, e mostra um Lou Reed dialogando com o hard rock, sem perder a essência glam da época, cantando basicamente canções do Velvet Underground e uma do disco Berlin.
O disco é aberto com uma longa introdução, seguida de uma arrebatadora versão de Sweet Jane, um tanto quanto diferente da encontrada no Loaded. A seguir, a autobiográfica Heroin, que refletia o vício em heroína cada vez mais incontrolável de Lou Reed. Em White Light/White Heat, outro clássico do Velvet, tocado com ainda mais intensidade, marca de todo o álbum. Lady Day, única das faixas do álbum proveniente da sua carreira solo, a tristeza do Berlin é tornada ainda mais comovente e ferina. Por fim, Rock ‘n’ Roll, também do Velvet Underground, traz uma mensagem de esperança de uma menina que teve sua vida salva pelo Rock. Talvez fosse essa a perspectiva de Lou Reed.
A visceralidade do Rock ‘n’ Roll Animal foi mais uma das múltiplas transformações de Lou Reed que o tornam tão versáteis quanto seus discípulos David Bowie e Iggy Pop. Pouco tempo após sua gravação, Reed faria sua mais ousada transformação, gravando o até hoje incompreendido Metal Machine Music, talvez o mais controverso disco de todos os tempos.
4.5/5
_
Ficha Técnica
Rock ‘n’ Roll Animal (Lou Reed) 1968. Lou Reed (vocais), Pentti “Whitey” Glan (bateria, percussão), Steve Hunter (guitarra), Prakash John (baixo, vocais de apoio), Dick Wagner (guitarra, vocais de apoio), Ray Colcord (teclado)
_
Tracklist
- Intro/Sweet Jane
- Heroin
- White Light/White Heat
- Lady Day
- Rock ‘n’ Roll
_
Faixa Recomendada:
Filed under: Comentários | Tags: 1975, A Night At The Opera, Crítica, Queen, Resenha, Rock

– Luiz Carlos Freitas
Em 1975, mesmo após a boa recepção de seus primeiros três álbuns, Queen, Queen II e Sheer Heart Attack – esse último, responsável pela internacionalização da banda -, o Queen ainda dispunha de um sucesso relativamente modesto. A crítica, principalmente, ainda não se dava por convencida de que o grupo britânico tinha muito o que oferecer ao cenário artístico da época, tampouco à posteridade. Mas não era isso que Mercury pensava. Perfeccionista, ele sabia que o Queen era muito mais do que o mundo estava preparado para aceitar e lutaria até o fim para conseguir firmar isso. Juntos com ele nessa batalha, estavam o guitarrista Brian May, o baixista Roger Taylor e o baterista John Deacon; suas armas: ousadia, persistência e – claro – talento quase sobrenaturais. E a materialização definitiva disso seria o disco A Night at the Opera.
Com seu título baseado na comédia homônima de 1935 dirigida pelos irmãos Marx, o álbum é até hoje aclamado como o ápice criativo do grupo e uma das maiores obras da história da música. Sua concepção foi turbulenta, com o perfeccionismo de Freddy batendo de frente com os produtores da banda, que o achavam demasiado exagerado em suas exigências, como por exemplo ter cada linha instrumental gravada separadamente em um estúdio próprio (o que acabou sendo acatado, no fim das contas), além do caso envolvendo Norman Sheffield (a quem Mercury se referia vez por outra nas apresentações como “o maior filho da puta que já conheceu”), ex-empresário da banda que desviou para si grande parte do lucro das vendas e apresentações e quase afundou as finanças do grupo.
Mas após alguns meses de intensa elaboração a pés firmes, a gravação final saiu impecável como esperado e o resultado surpreendeu a todos, com o disco emplacando os primeiros lugares de vendas e execuções nas rádios por semanas seguidas, projetando definitivamente o nome do Queen e, principalmente, de Freddy, seu líder. Contudo, é imprescindível citar que o endeusamento popular ao vocalista acaba, por vezes, injustiçando os demais integrantes. Não desmerecendo nenhum dos elogios dirigidos ao dentuço, indiscutívelmente um dos artistas mais completos que esse mundo já viu, mas não deve-se deixar que isso ofusque o que realmente era o Queen: a união harmônica de quatro brilhantes artistas que, assim como Freddy, tinham larga responsabilidade no sucesso do grupo. A Nigh at The Opera acaba sendo crucial para confirmação dessa tese.
O processo de criação das músicas acaba se dando de forma bem pessoal, com todos tendo vez para cantar nas faixas, além da particularidade na criação das letras e, óbvio, a total habilidade com seus próprios instrumentos (Brian May é um dos maiores guitarristas já vistos). Algumas das melhores faixas são de inteira responsabilidade desses membros “secundários”, como ‘I’m in Love With My Car’ e ‘You’re My Best Friend’ – cantadas respectivamente pelo baterista Roger Taylor e pelo baixista John Deacon – , além de ‘Good Company’ e ’39″‘, que recebem a voz de Brian May.
Na verdade, não existe necessariamente uma faixa de cada um. Os quatro foram ativos em todas as músicas, celebrando o título e construindo verdadeiras óperas do rock (as três primeiras faixas – ‘Death on Two Legs (Dedicated To…)’, ‘Lazing on a Sunday Afternoon’ e ‘I’m in Love With My Car’ – se completam sem cortes, como um ato de ópera), e o grande apogeu disso pode ser observado em ‘The Prophet’s Song’ e ‘Bohemian Rhapsody’, as duas faixas mais elaboradas do disco, com seus arranjos extremamente técnicos e complexos, além das experimentações e peripécias vocais de Freddy. ‘Bohemian Rhapsody’ é definitivamente o maior feito do disco. Mesmo com sua estrutura até então inédita a um trabalho com foco tão comercial quanto pretendido, foi um sucesso nas paradas, sendo tocada à exaustão várias vezes ao dia em todas as estações. E muito mais que isso, é talvez a maior realização musical de todos os tempos.
Olhando além de todas as suas qualidades, ainda vemos o legado que A Night at The Opera deixou. Com o disco, o Queen deixou bem claro que o público poderia, sim, estar pronto para inovações desse porte. A ópera e o rock já haviam flertado antes (os exemplos mais icônicos anteriores ao Queen são Tommy, do The Who, e The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, de David Bowie), mas nunca da forma como fora apresentada aqui. Particularmente, ainda hoje, mesmo quase 40 anos após seu lançamento, A Night at The Opera não conseguiu ser superado ou sequer igualado. Uma perfeita e completa obra de arte.
5/5
_
Ficha Técnica:
A Night at The Opera (Queen) – 1975 – Integrantes: Freddy Mercury (vocal, piano), Brian May (violão, guitarra, koto, ukelele, harpa), Roger Taylor (bateria, gongo, tímpano, pandeiro), John Deacon (baixo)
_
Tracklist:
– Lado A
1. Death on Two Legs (Dedicated To…)
2. Lazing on a Sunday Afternoon
3. I’m in Love With My Car
4. You’re My Best Friend
5. “39
6. Sweet Lady
7. Seaside Rendezvous
– Lado B
1. The Prophet’s Song
2. Love of My Life
3. Good Company
4. Bohemian Rhapsody
5. God Save the Queen
_
Faixa Recomendada: